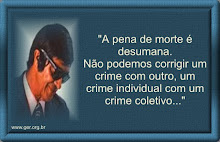A pré-história do punk no Brasil. Talvez essa seja a melhor definição para o papel do Cólera no rock nacional. Desde que começou, em 1979, ainda se mantém firme e forte – ou como mesmo definem: “30 anos sem parar”. Confira nesse entrevistão a história da banda, o disco novo, Acorde Acorde Acorde, DVD e muito mais. Por Márcio Sno
Por Márcio Sno
 Nesse meio tempo, a banda tomou atitudes que quebraram paradigmas, como a produção e participação na primeira coletânea punk do Brasil (Grito Suburbano, que iniciou oficialmente o movimento no país) e a histórica primeira tour de uma banda punk brasileira na Europa (época em que o contato era feito via carta) que ainda hoje é referência para as bandas que excursionam no velho continente. Produziu, ainda, discos memoráveis como Pela Paz em Todo Mundo, Verde Não Devaste!, além das coletâneas Sub e Ataque Sonoro. No ano em que comemoram três décadas, o Cólera está na estrada numa tour por todo país e prometem um disco e um DVD.
Nesse meio tempo, a banda tomou atitudes que quebraram paradigmas, como a produção e participação na primeira coletânea punk do Brasil (Grito Suburbano, que iniciou oficialmente o movimento no país) e a histórica primeira tour de uma banda punk brasileira na Europa (época em que o contato era feito via carta) que ainda hoje é referência para as bandas que excursionam no velho continente. Produziu, ainda, discos memoráveis como Pela Paz em Todo Mundo, Verde Não Devaste!, além das coletâneas Sub e Ataque Sonoro. No ano em que comemoram três décadas, o Cólera está na estrada numa tour por todo país e prometem um disco e um DVD.
No dia da entrevista, antes de entrar na casa do vocalista Redson, tivemos que limpar os pés em um pano de chão com aquela famosa foto de Jim Morrisson. “Nada contra, é apenas uma camiseta velha mesmo!”, esclarece o “filho vermelho” que nos levou para o escritório central do Cólera, localizado entre a cozinha e o quarto.
A idéia era conversarmos sobre os 30 anos da banda e os próximos lançamentos, mas a conversa passou pelo surgimento do punk no Brasil, a construção de instrumentos, a perseguição e luta contra a ditadura, aventuras para ir para a Europa… Como se não bastasse, ainda tive acesso a diversos materiais históricos que aparecerão no DVD. Foi muito interessante ter esse contato com a história do punk tão de perto e que agora é compartilhado com os leitores do Portal Rock Press.
Apertem os cintos e boa viagem.
Na entrevista cedida a Fábio Massari, em 1991, Frank Zappa disse que “o punk foi certamente a última explosão de criatividade, de vontade…”, você concorda com isso?
Eu acrescentaria com “que se espalha pelo mundo”. Porque deve ter acontecido mais uma centena de explosões de outros gêneros e estilos musicais que não se ploriferou além do regional. Vamos dizer que a música celta voltou a ter uma vitalidade no este irlandês e na Espanha e ninguém ficou sabendo. O punk tem caráter mundial. Nesse aspecto, não tem nada de novo acontecendo.
Você caiu no punk por ideologia ou pelo som?
É bizarro, porque para responder isso para você, a gente tem que definir o que é punk, para eu dizer se sou punk ou não, se é ideologia ou não. Antes de eu começar a tocar punk, antes de entrar na história do punk rock nacional eu já tinha uma vivência do rock pauleira, do rock n’ roll, já havia tentado montar quatro bandas antes do Cólera. E nessa história eu ia na [estação de metrô] São Bento como meu violãozinho rei e ficava sábado e domingo, a tarde inteira lá tocando rock n’ roll com a galera, me divertindo com o rock. Essa era a minha filosofia de viver: fazer música onde houvesse uma participação, empolgação de quem estivesse lá, que não fosse aquela música que ficasse quarenta minutos com solo de guitarra, mais quarenta de bateria (puxa, o cara tocava pra caralho, mas eu não bati o pé nenhuma vez, não mexi a cabeça nenhuma vez). Meu propósito de filosofia era esse. E eu já tinha embutido em algumas letras que eu escrevia, até eram meio surrealistas, não tinham nexo com nada, mas já havia embutida a postura pacifista da não-violência. Porque eu não era de nenhuma gang, eu ia sempre sozinho, não tinha galera e aquele momento do rock nacional era conturbado pra juventude, a política do país era de violência [se referindo à ditadura militar] e o rock também tinha esse momento de violência nos shows e tudo mais. E quando o punk surgiu, surgiu com gangs e também com essa veia de violência, as pessoas se tornaram intolerantes perante a outros grupos, com uma série de coisas: com a roupa do cara, o punk achava que o hippie não tinha mais valor na sociedade, tinha até aquela coisa de bater no hippie. E eu nunca tive essa postura, eu sempre fui mais pelo som. Então, esse tipo de ideologia de ser consciente da atuação dentro de um grupo social onde a gente está de roqueiros em geral e a sonoridade foi o que me trouxe ao punk.
A ideologia do punk acabou por um lado, ou seja, em um aspecto dela se sintonizando com a ideologia que eu queria fazer: a não-violência, o faça você mesmo intenso e, principalmente, o som livre e sem regras, onde todo mundo pudesse participar. Só que com o passar do tempo, com a introdução do punk em vários lugares, não era só uma coisa que estava na Inglaterra, passou a ser pelo mundo, começou a ter uma restrição do próprio punk à sonoridade e à ideologia. O que limitou ao ponto de vista “destroy” a sonoridade 1-2-3-4, não precisa afinar para saber tocar. Isso eu não acho errado, eu acho que era uma postura que se teve normalmente, espontânea, um momento que se viveu, ninguém veio e ditou essa regra, foi uma situação até de resposta à perpetuação da idéia, para não deixar que isso se perdesse, mas eu não deixei de acreditar e de fazer o que eu já queria antes do punk, que era fazer o som e a linguagem que eu já tinha. Isso já tinha mais a ver com The Clash do que com [Sex] Pistols, por exemplo.
Antigamente era necessário definir se era isso ou aquilo, punk ou metaleiro.
É, não tinha “punk flexível”, não podia ser “punk bom senso”!
E vocês não ficavam só nos acordes de Ramones e Sex Pistols, indo mais para o lance do The Clash, mais ousado…
Quando eu ouvi Pistols pela primeira vez eu não assimilei, eu só assimilei quando ouvi Clash e The Stranglers.
E hoje essas divisões não são tão explícitas/radicais, permitindo que se misture mais o som, pois o pessoal das antigas mais radical reclamava. Hoje é mais fácil ser o Cólera?
É verdade, hoje além de ser mais fácil, a gente está muito mais próximo, porque no início, eu não vou dizer, por exemplo, que o pessoal da [Vila] Carolina [bairro da zona norte de SP onde os punks se reuniam], o pessoal da zona leste, quem quer que fosse que não gostasse do Cólera, do nosso estilo de compor e sonoridade diferente, estavam errados. Eles tinham o direito de não gostar. E hoje todas essas pessoas que foram de todos aqueles lugares e daquelas épocas, estão com a gente. Por exemplo, na semana passada [11/04], tocamos no Punk na Paskoa [festival com bandas realizado no Hangar 110], com o Invasores de Cérebros do Ariel, que é do pessoal “da antiga”, o DZK também, enfim, não existe inimizade mais com ninguém dentro dessa cena, com ninguém que foi daquela época. Inclusive o problema que tive com o João Gordo na época, foi resolvido há anos. Então, o que acho que é bom hoje, que acho positivo é que você tem recurso, você tem como se comunicar e achar as pessoas, “achei aquele punk, daquela banda, que a gente não se via há anos e estamos juntos de novo nessa possibilidade”. Como não tem mais essa restrição e sim todo mundo tem mais claridade do que o punk é e sempre foi, então a gente convive harmonicamente. Senão a gente estaria brigando por ideologias bestinhas, por picuinhas sonoras se você é anarquista ou não…
Nesse mesmo show que você citou, vi uma cena interessante: um punk (com visual e tudo mais) subir no palco e bater cabeça num dos sons. Algo inimaginável se olharmos 20 anos para trás. Nesse quesito, missão cumprida?
Missão cumprida. A gente vê isso como aquele orgulho bom. Aquilo: eu fiz o bolo e todo mundo comeu! Também se não estivesse satisfatório pra gente, tínhamos parado há muito tempo. A gente já tinha cansado, porque teve uma série de impecílhos até para sobreviver como banda, então começa a ficar de saco cheio, que não tá dando certo, e essa coisa contra, você acaba desistindo.
Na época em que começou o punk em SP, os meios para comunicar a idéia do movimento eram bem escassos, ainda mais por ser período de ditadura. Porém, o engajamento político dos jovens era mais aflorado ao contrário de hoje em épocas de democratização da informação com a internet, poucas pessoas levantam bandeiras ou fazem manifestações públicas. Como você vê esse paradoxo?
Eu acho relativo. Tem a juventude que levanta a bandeira, só que ela não é veiculada ao ponto de ser conhecida como ativista político ou até de barricada, digamos assim. E tem também grande quantidade de pessoas que não estão focadas nessa postura política, ao ponto do que eles fazem é ter atitude, é conviver em grupos e lidar com isso, porque é o que era mais grave no passado: encostou no povo, deu uma cotoveladinha, já eram todos pra cima do cara. E hoje existe uma coisa contrária, se o cara cai no chão, vai todo mundo lá e levanta. Então, a gente tem com o Cólera, um papel de pai, de educador, para que todas essas possibilidades pudessem rolar. Não só a gente que tem, mas a gente sabe que a gente falou muito, incentivou muito essa postura de noção do que é o que você está fazendo nessa história. Então existe esse disparate não tão forte, mas existe. Na época do começo, havia a necessidade de lutar contra o sistema, com passeatas na ditadura… A ditadura proporcionava esse ambiente, hoje você tem uma liberdade de expressão, canais de expressão infinitos, você pode fazer uma banda você mesmo, tem a onda na monobanda (que eu acho muito legal, o cara toca o bumbo com o pé e toca guitarra, cantando, faz tudo), aí você vai na internet, põe no Youtube, no Myspace e tudo mundo vai ver. Naquela época a gente fazia uma fita cassete, gravava umas dez cópias e juntava quatro meses de salário para mandar pelo correio para alguns lugares como Alemanha, França e era um sacrifício para dez, quinze pessoas terem acesso. Então essa sensibilidade também proporciona todo tipo de postura: a cômoda e a ativista. É que aqui no Brasil nós temos duas dificuldades: é um país que não tem memória e que não tem ouvidos para a verdade. Então se você está fazendo a coisa certa, todo mundo faz de conta que não tá vendo e não quer entrevistar você. Mas se você está fazendo uma coisa errada, rapidinho se propaga essa informação. As coisas que são feitas de positivas não têm espaço da forma que deveriam ter, nem propagação que precisava.
Nessa época, em suas primeiras gravações, as músicas tinham que passar pela censura. Isso desestimulava a composição ou vocês encaravam como um desafio?
É engraçado, porque antes do Cólera, eu tinha outras bandas e já fazia letras e mandava para a censura para poder publicar e as letras não falavam nada demais, não era protesto… Como “Rock Andante”, “Quarta Museus”, “Sobrado Mal Assombrado”. Tinha uma música que dizia “Face azul, cabelo negro e o corpo nu”, a música foi proibida! E de tanto as minhas músicas terem essas letras psicodélicas, surrealistas e serem proibidas, quando a gente foi gravar o disco Grito Suburbano, que foi o primeiro registro do Cólera [com Olho Seco e Inocentes], eu não mandei nenhuma letra para a censura. Também não falei isso para ninguém, nem pro Fabião [vocalista do Olho Seco], falei assim: “ah, que se dane, se quiser, vem me pegar!” E aí gravamos o disco, com as quatro músicas do Cólera e eu fui perseguido pela polícia federal, meu nome foi parar na SNI [Serviço Nacional de Informações], então pra mim foi um desafio significativo. Até então, eu só sabia lidar com a ditadura indo às passeatas, usando meu velho método de elástico com clipe [de papel] grande: você sobe no primeiro andar de um prédio, fica na janelinha e o cara passa no cavalo e você “pau!”, acerta o cavalo e derruba o soldado no chão, é uma crueldade com o cavalo, mas infelizmente era uma arma que tinha acesso um moleque de 14 anos para lutar contra a ditadura.
Quando eu via esse formato de não aceitar a imposição da censura e comecei a ser perseguido aí, você começa a pensar “meu, o cara pode sumir comigo a qualquer tempo”, sei que tem o Esquadrão da Morte [organização surgida nos anos de 1960 que eliminavas os “bandidos comuns”], eu sei que ninguém tem direito nessa história, se morrer ninguém pode fazer nada, ninguém podia reagir, e eu acabei encarando de frente a situação. E o cara [agente da ditadura] estava me interrogando, fazendo perguntas, me vigiava – eu saía de casa pra trabalhar e ele já sabia onde eu ia chegar e ficava me seguindo. E chegou um dia que eu cheguei nele e falei: “meu, então me prende, me leva, se você me acha que sou um deles!” Ele achava que eu era líder, dizendo: “você fala bem, é articulado, você é que fica incentivando os moleques a atacar a polícia…” Eu disse “se você acha que eu sou, então me prende!” e ele “para de escândalo, não gosto de escândalo”. Eu articulei, eu confesso que pensei na coisa, usei uma estratégia planejada, e gritei: “Então me prende! Não vai me prender? Você acha que eu sou o líder? Me prende!”, isso em pleno Viaduto do Chá [no centro de SP e um dos locais mais movimentados da cidade]. Todo mundo ficou olhando, os velhos tinham medo, mas o pessoal interessado em saber o que estava acontecendo parava. E aí o cara ficou sem graça e falou “também não é assim já faz um tempo que estou te vendo…” eu disse: “me deixa em paz!” No outro dia em que fui trabalhar ele não estava no ponto [de ônibus]. Ufa, que alegria! Quando entrei na Galeria do Rock, o cara estava lá me esperando, só que dessa vez ele me falou: “não vou mais te perseguir”. Isso já foi em agosto ou setembro 1982, em 84 houve a mudança [entrada do governo civil] e meu nome saiu do SNI, mas isso em 87, 88, quando começou a mudar uma série de coisas na legislatura.
No documentário “Botinada”, de Gastão Moreira, o Pierre fala que até usarem o material do Condutores de Cadáveres, a bateria dele era o sofá. Como era isso?
Quando começou a banda, como eu disse antes, eu ia com o violão para a São Bento, e o Cólera começou numa dessas minhas idas, eu cheguei lá e estava tocando na parte de cima, e os punks da Carolina estavam todos lá embaixo. E os caras estavam tirando o Helinho da banda, que na época era o baixista, e estava entrando o Clemente [Inocentes] que era do Condutores de Cadáveres. E o Helinho estava pra baixo, meio cabisbaixo, veio pro meu lado com um violão também e eu disse “vamos fazer um som”, aí sintonizou a nossa sonoridade. Aí montamos a banda, só que a gente não tinha equipamento, não tinha nada, eu tinha uma guitarra e ele tinha um baixo e um amplificador pequenininho. Aí montamos a banda, começamos a ter as idéias e tal, apareceu o nome Cólera e aí um dia ele falou: “tem um show para fazer na Escola Cetal, lá no Bairro do Limão, e a gente precisa ensaiar e a gente pode usar o equipamento dos Condutores de Cadáveres, eles tem no barracãozinho deles um amplificador, bateria… Mas não tem problemas pra você? Fica lá na Corolina”. E eu disse: “pra mim não!” Nesse período, até ensaiar com o equipamento deles, que foi a preparação das músicas durou uns 40 dias, a gente ensaiou em casa mesmo, que era num apartamento que eu morava com minha mãe e meu irmão, no centro da cidade, e a gente pegava os dois violões. Eu estudava bateria na época, e eu treinava na poltrona. E o Pierre nunca tinha tocado em uma bateria, mas durante todo o tempo de roqueiro que estamos juntos, a gente ficava fazendo o som com a boca juntos, ia pra escola tocando Deep Purple, aquela coisa. E a gente já tinha uma sintonia sonora, já queria montar uma banda há muito tempo. E aí ele começou a treinar junto com a gente na poltrona para passar as músicas. Antes de realizar os registros dessa época de composição, as batidas das músicas eram “tá-tum”, pois era o que ele fazia, o que ele sabia fazer naquela realidade. Aí, quando chegou perto do show, fomos lá para o ensaio dos caras, no Clemente. E os caras acharam engraçado, uns molequinhos pequenininhos, o baixo era maior que eu, chegamos lá, aqueles três caras, ligaram as coisas e aí começou: “tam, tam, tam, tam, tá-tum tá-tum, tá-tum, tá-tum”… E aí todo mundo veio pra dentro: “que doido, que coisa diferente!”, parecia country, e foi o que fez que a gente fizesse a nossa formação inicial, que não foi a definitiva, passados oito meses o Helinho saiu, o Val entrou pro baixo (na época eu era o baixista) e eu fui para a guitarra. Aí eu comecei a ouvir muito The Clash, e comecei a ter uma referência sonora, que me deu base para fazer o que o Cólera faz hoje, por conta da liberdade, essa linguagem de som e letra que acabou sendo o que a gente realmente queria fazer, mas também fomos influenciados pela música punk da época, que já vinham com a proposta punk. A gente se inseriu no punk com as nossas idéias e aceitou as idéias do punk.
Qual o principal estímulo que fez com que o Cólera chegasse às três décadas?
Eu e o Pierre, principalmente, sempre queríamos demais ter uma banda. E a minha primeira banda de rock foi o Kiss, gosto até hoje, mas eu lembro de quando eles fizeram aquela “I Was Made For Lovin’ You” [do álbum Dynasty, de 1979]… O mundo caiu! Não acredito, os caras traíram, se entregaram, se venderam! Aquela coisa… Eu tinha 16 anos, e foi uma coisa terrível de lidar. E a gente não queria isso de jeito nenhum, então um monte e banda que a gente escutava e falava “oh, muito bom! Muito bom!”, e passava um ano: “puts, estragou!” Tudo que a gente ouvia, partia do bom para o ruim. E a gente tinha isso não declarado entre nós. Era uma coisa que a gente tinha necessidade de ter, o rock n’ roll de verdade. E se fosse para ter uma banda era pra sempre fazer rock n’ roll de verdade, senão seria outra banda. Então quando eu quis fazer outro gênero sonoro eu ouvi bandas paralelas como new romantic, reggae, “música para andar de bike” e, por isso, até banda cover de The Cult e Toy Dolls eu já montei e até hoje mantenho uma do The Clash.
Como é viver independente nesse tempo todo? Vocês já receberam propostas de diversas gravadoras…
Bom, já até posso anunciar que vamos lançar o nosso novo disco pela Deck Discs, que mantém a gente ainda como independente porque é um disco só, a gente não está entrando como artista da Deck, para ficar para o resto da carreira, mas é o seguinte: a gente antes estava com o Chicão da Devil Discos, que é um selo que muito deu certo a parceria, e o Chicão sempre foi muito honesto conosco no quesito composição, infraestrutura para gravar, investe bem no disco, dentro da realidade do selo, mas ele hoje não tem mais tanta infra, não tem estúdio próprio, não tem mais a loja [que ficava na Galeria do Rock], e a gente não pode esperar que ele tenha esta estrutura hoje, não dá pra cobrar isso dele. E aí a gente recebeu uma proposta coerente da Deck, que vai projetar o nosso som do jeito que queremos, pois temos público no Brasil inteiro, e é mais justo que o cara compre o nosso CD lá na loja de 15 a 20 reais, do que ter que comprar em sites e distribuidoras por 28, 30, quando ele acha para comprar. Então, a minha expectativa agora, é que a gente tenha a mesma liberdade que sempre teve.
Mas isso é uma sensação ótima [ser independente], a gente faz o que quer, mas a responsabilidade é maior também. Se você mora com os seus pais, tem uma série de coisas que você não sabe que são feitas, que você conhece quando vai morar sozinho. Portanto, ser independente é como morar sozinho: é a autonomia que exige mais responsa.
Então não rolou com as outras gravadoras por quererem manter o som de vocês?
Não vou dizer que seja só isso, tem vários aspectos, por exemplo: em 80, 81 e 82, eu mantive muito ativamente o selo Estúdios Vermelhos, que lançou a primeira demo-tape do Ratos de Porão, a primeira demo oficial do Cólera, do Anarcoólatras [do Marcão, dono do Hangar 110], eu tocava no Olho Seco, então algumas demos foram gravadas na minha casa, outras em estúdio… Então essa foi uma época em que lancei muita coisa em cassete. Aí em 83, 84, depois que tinha feito o Sub [coletânea que reuniu Cólera, RDP, Psykóze e Fogo Cruzado], eu já havia feito a produção técnica do Grito Suburbano, resolvemos que íamos lançar o disco do Cólera, eu já tinha juntado uma grana de um ano e meio de office-boy que dava pra produzir metade do álbum, e eu estava procurando quem fizesse a participação em sociedade para terminar. Foi aí que apareceu o Renato [Martins] juntos montamos o [selo] Ataque Frontal, no qual fiquei como sócio por oito anos. Nesse período do Ataque Frontal foi ótimo, com o [primeiro disco do Cólera] Tente Mudar o Amanhã, até que o Pela Paz em Todo Mundo estourou. Quando isso aconteceu, a gente estava na segunda turnê nacional, e já estava indo para a Europa, a gente começou a ser sondado pela RCA, Warner e várias outras gravadoras, e aí a gente pensava: “time que ganha, não se mexe”. O selo era nosso, meu e do meu sócio, a gente fazia dentro da nossa vontade, e por que a gente ia fechar com o inseguro que a gente nem sabia o que era? E a gente só recebia notícias ruins: as Mercenárias já assinaram, não fizeram o jogo dos caras, ficaram na gaveta e a banda acabou. Aí a gente pensava, pra quê vamos entrar no jogo dos caras se a gente já tem o nosso montado? Então isso também evitou [de assinarem com gravadoras].
No final dos anos 80, com a mudança do vinil para o CD, o Chicão foi um parceiro que sempre gostou do jeito que a gente trabalhava, sempre teve uma amizade muito forte comigo, era pontual com a gente, sempre teve essa relação. Aí eu estava saindo da Ataque Frontal e ele perguntou: “como vai lançar o disco do Cólera?” e eu: “estou aceitando propostas!” E ele fez um proposta justa, além de deixar os outros discos disponíveis, ia lançar o disco que era uma proposta enorme depois da tour da Europa, o Verde, Não Devaste!, que era além do disco, era uma informação instrutiva sobre ecologia, tinha um fanzine junto e tal. Então foi uma parceria muito boa que durou muito bem, fizemos a caixa de 20 Anos [conhecido como “War do Cólera”, com CD, vídeo e pôster], então, mesmo estando em um outro selo que não fosse nosso, a gente não tinha necessidade de algo mais. De 2006 pra cá, época em que o Chicão deu uma recuada, a gente estava precisando de algo que dê uma infraestrutura para o novo álbum, para a fase de 30 anos e foi a Deck que propôs. E é muito autônomo o nosso mundo, a nossa atividade é totalmente a gente. É difícil alguém conseguir intervir, mas pode haver uma opinião muito construtiva e a gente usar. Mas intervir mesmo é difícil, pois a banda já está num patamar que se até a gente quisesse mudar, a gente não conseguiria. Já está tão forte a química, que é difícil mudar.
Nesses 30 anos, seu irmão Pierre foi quem te acompanhou sempre. Como é essa relação de família X banda? Isso é bem separado ou se confunde?
Acho que é legal porque a gente sempre soube conviver como irmão, músico, amigo, sem misturar as coisas. E o que mais sustenta essa convivência é que um não cuida da vida do outro. A gente até tem um certo lema, que usa sempre em entrevista: “Deus te deu a vida, cuida dela, deixa eu cuidar da minha!”, mesmo que você não acredite em deus. Então a gente faz muito isso na banda. Cada um com suas particularidades, não traz problema pra dentro da banda, e essa postura facilita a convivência. E é fácil também porque somos em três. Mais que isso é treta pra lidar.
E vocês vivem só de música?
Não. Eu sou o único que trabalha com música, dou aula de canto, sou produtor e consultor de gravação, estúdio, vídeo, de todo tipo de gravação de som, e trabalho como empresário da banda, vendo o show e também toco. Então eu vivo dessas coisas. Eu vivo como autônomo, profissional liberal. O Pierre trabalha em uma corretora de grãos de soja, há 17 anos. E o Val trabalha em uma outra empresa também. Então, cada um tem um emprego, fora a banda, só eu mesmo que sou autônomo. Mas se eu tivesse que trabalhar todos os dias, não conseguiria produzir a banda do jeito que ela tem sido feita, de realizar turnê na Europa de novo [em 2008], de lançar discos, tudo isso eu coordeno dentro do meu trabalho.
Vocês ainda possuem as duas formações que alternam o Fábio e o Val no baixo?
Não. O Fábio [Bossi] estava numa correria fora do normal, porque ele foi goleiro da seleção brasileira de hóquei sobre patins on-line, depois passou a ser também técnico da seleção masculina e também da feminina e passou a ser presidente da Confederação Brasileira! Se ele já não tinha tempo pra dar conta dos shows em 2002, 2003, com o Val cobrindo ele, quando chegou em 2006, 2007, ele nem tinha mais tempo de ensaiar e preparar novo álbum. E o Val já vinha participando de todas as grandes atividades da banda, o [programa de TV] Central da Periferia, o [festival] Abril pro Rock, o Porão do Rock, falamos: “meu, é mais fácil ficar com a formação clássica que vai rolar, do que ficar esperando o Fábio, que não vai ter tempo, para a banda andar”. E ele mesmo teve essa postura e achou melhor abraçar uma causa só, pois desde os nove anos que ele está na vida do hóquei e ele continuou a parada dele.
O Cólera, por ser uma das mais importantes dentro da linhagem do rock que seguem, é inevitável que tenham pessoas que te considerem “o” cara. Como lidar com isso?
A grande parada é quando você entende que quando as pessoas colocam você em determinada postura que você até pode estar, pra você não deixar que o ego, o cavalo selvagem, pule a cerca, você só deixa que a pessoa diga, quando você começa a dizer “eu sou ‘o’ cara”, aí, fudeu, caiu a cerca. Esse aí é o ponto em que eu tenho sempre cuidado. Às vezes a pessoa quer falar que ama, que você mudou a vida dela… Você é responsável por isso, é a lei do Pequeno Príncipe “tu és responsável por aquilo que te cativas”. Deixa ela falar! Você já fez o que tinha que fazer! Eu acho que sempre é bem-vindo. Mas se eu sentir que isso está afetando o ego, eu vou fugir dessa parada, porque o ego destrói tudo.
Nas várias entrevistas que li do Cólera, sempre que o entrevistador estimula que você fale mal ou responda a uma provocação de alguém, você sempre desvia e evita a confusão, se mantém neutro.
Eu não alimento discussão, não entro na jogada.
Essa é uma das atitudes que tornam o Cólera uma banda respeitável?
Acho que é uma coisa mais minha até. Eu sempre coloco no bate-papo da banda que a gente tem que tomar certas direções e diretrizes de que gente é uma banda bastante diferente que outras do gênero, tem um puta espaço para falar, saímos do Porão do Rock [festival realizado em Brasília], saímos do palco, fomos para uma sala com uma coletiva de imprensa para a América Latina, com 40 repórteres querendo saber tudo ao mesmo tempo… Você vai falar o que ali? De picuinha, de que tem raiva, que tem mágoa, vai ficar xingando? É a chance que você tem pra falar o que sempre quis dizer, do seu som, de suas idéias… Se há uma briga com outra pessoa, se há problema do “disse que disse”, a gente não vive de briga, de picuinhas, a gente vive de tentar ser mais sincero com o público, no acerto ou erre. Então, sempre que me provocam, eu tento sempre saio pela tangente, pois tem a história do [João] Gordo, a gente era adolescente, brigou de bobeirinha, e o tempo foi passando e isso já foi resolvido há 6 anos, e o pessoal pergunta: “e a briga com o Gordo, você chegaram a sair na mão?” e eu digo “velho, não tem mais briga do Gordo”, “Mas e como foi?”, “Foi!” Não está tendo, se estivesse, talvez tinha novidades a serem contadas. O que foi, foi. Ninguém saiu na mão, ninguém bateu boca, foi um desentendimento de moleque perdurou por um tempo, 17 anos. Coisas que você aprende com a vida, que não adianta você ficar com orgulho besta, por causa de picuinhas. Hoje a gente divide números no palco, fazendo shows, no Circo Voador e em São Paulo, então não tem motivo para alimentar a violência se a gente é pacifista.
A primeira tour do Cólera na Europa também foi a primeira de uma banda punk brasileira e é um divisor de águas na história do rock brasileiro. Sei que já deve estar cansado de responder isso, mas como foi tornar isso possível em uma época em que os contatos eram feitos por carta?
Um cara da Bélgica, fãzão da banda, me mandou uma carta em 1984. Entre 83 e 85, enviamos uma demanda enorme de material da banda para fora, e tinha muita fita cassete do Cólera, quando lançamos o Tente Mudar o Amanhã, o Sub também, começamos a mandar pacotes e pacotes de vinis pra fora. E o cara falou: “tem muita gente que gostam de você aqui, por que não vêm fazer uns shows?” E eu falei: “Vamos! Não sei como a gente vai, mas vamos!” Tentamos fazer em 85, marcamos pra janeiro, depois pra julho… Quando chegou o início de 86, teve o congelamento [dos preços, época do Plano Cruzado, do governo Sarney] e a gente já vinha dois anos articulando, vamos, não vamos, como que faz. Quando congelou tudo, eu tive a chance de sacar: “é um ano que se a gente juntar o pouco de dinheiro que dá para guardar (pois o problema era a desvalorização do dinheiro], aí a gente troca em dólar e viaja. E nós fizemos exatamente isso. Ficamos um ano juntando dinheiro, pois na verdade, iríamos em novembro de 86, conforme o planejamento. Mas quando chegou em outubro, a gente não tinha nem a metade da grana que precisava (isso para as passagens). Aí, remarcamos para janeiro. Aí o cara falou assim: “em janeiro nem precisa vir, pois aqui é inverno e ninguém vai”. Marcamos para fevereiro. Mandamos uma carta pra ele em dezembro, pois as cartas naquela época demoravam de 7 a 15 dias para chegarem, e ele recebeu em janeiro, depois do Natal e quando ele respondeu ele falou: “mas vocês vêm mesmo?” E eu mandei uma carta falando: “vamos sim! Me manda o seu telefone”, e ele demorou para mandar o telefone, nesse meio-tempo, eu fiz toda a correria para a turnê, de dezembro até fevereiro. Mas eu descobri uma coisa gravíssima, que o Kid Vinil que salvou a gente dando a dica: “olha, se vocês estão indo para a Europa, tem que levar pelo menos mil dólares cada um, senão os caras mandam vocês voltarem!” “É mesmo Kid? E agora? A gente só tem o dinheiro da passagem!” A passagem era mil dólares cada, e ainda tinha empréstimo compulsório [tributo cobrado pelo Governo Federal], que era de 20%, então de 3 mil, ia para 3.600 dólares as três passagens! E a gente só tinha 2.400. Não gastamos um centavos, todos material de merchandising, camisetas, discos, shows, tudo que entrou de dinheiro em 86, que congelou, trocamos em dólares e guardamos. Aí, a diferença dos 3 mil dólares para viajar, e os quase mil de passagem que faltavam, a gente fez um empréstimo e aí compramos a passagem e esperamos o telefone do cara. Quando compramos as passagens, mandei um carta: “estamos indo!” Aí ele não mandou o telefone, mandou uma carta: “OK, eu já tenho 18 shows para vocês!” Maravilhoso!
Quando a gente chegou lá, o cara caiu sentado: “eu não achei que vocês viriam! O Brasil é mundo longe! Na verdade, não tem nenhum show marcado!” Detalhe: só eu falava inglês dos três, e os caras nem sabiam o que estava acontecendo! E pra resumir a história, mediante de tudo isso que aconteceu, a gente ligou pra um cara que já havia levado o Dead Kennedys, UK Subs, e em três dias, o cara arrumou sete shows, e ao invés de a gente fazer uma turnê de três meses com 18 shows, como planejado, fizemos uma turnê de cinco meses e 56 shows!
Então isso foi mais do que um quebra-muro, quebra-barreira, para que todo mundo acreditasse que era possível sair daqui e fazer turnê. Ficamos com 6 mil dólares de prejuízo, pois além de gastar o dinheiro que pegamos emprestado e que a juntamos, aproveitamos para comprar guitarra Gibson 500 dólares, baixo de 400 dólares, para poder trabalhar como banda mais profissionalizada, mais estruturada no Brasil. E a gente se vira no Brasil para pagar a dívida!! E foi o que deu, quando a gente voltou, esperava uma puta repercussão: “oh, eles foram para a Europa!” Nada, o Brasil estava murcho, estava o Plano Bresser [plano econômico criado em 1987 pelo Ministro da fazenda Luiz Carlos Bresser, numa tentativa fracassada de controlar a inflação], tava uma zona, e a gente ficou totalmente em segundo plano.
Vocês tinham noção que esse passo que estavam dando?
A gente sabia que era forte. Mas não sabia que ia ser tão intensa a mudança de circuito que o pessoal das bandas que iam sair, como hoje, se você for para a Europa, fica três meses e tem 15 bandas brasileiras passando na cidade onde você está. A gente não sabia que poderia ir tão longe, mas que era uma grande quebra de barreira, a gente sabia.
Inclusive todos que tocam na Europa citam essa tour de vocês…
Sim como pioneiros, demos o início para tudo.
Na segunda ida de vocês à Europa, em 2004, no público haviam pessoas que viram o show de vocês em 87 e alguns com os seus filhos. Como é tocar para duas gerações?
Na primeira vez, em 87, começamos nossa turnê pela Bélgica, Antuérpia, Austim, e outras cidades. A afinidade humana que se gerou entre a gente e as pessoas desses shows foi imensa, tanto que fizemos sete shows só em Antuérpia, então quando a gente retornou em 2004, muitos desses caras que já eram adultos ainda curtiam e os filhos deles já estavam curtindo! O pessoal foi em peso, foi o show do saudosismo mesmo, foi aquela coisa: todo mundo chorou, a gente se abraçava… E foi aquela coisa boa, muito positiva, e foi muito bom pra nós, de chegar lá mas esse reencontro foi melhor pra eles que falavam: “a gente nem ouvia e acreditava mais em punk rock e a gente vê que vocês estão aí com a corda toda, como se fosse em 87”. E em 2008, fomos em outubro e muita gente foi ver a gente também e falaram: “daquela época em que vocês vieram, em 2004, pra cá a cena aqui aumentou, você ajudaram a fazer com que essas bandas surgirem ou outras bandas voltassem”, acabamos dando um exemplo motivacional, o que fé bem legal.
E como foi assistir ao show de uma banda brasileira (Confronto) em Amsterdam?
Fiquei muito feliz pelo Confronto. Pois a gente tem nome lá fora, mas muitas bandas como eles, até irem pela primeira vez não tinham tanto conhecimento [da banda], tem mais aquela afinidade porque é straight edge que vai em show straight edge e tal. Aí o que rolou foi o seguinte: a gente tinha terminado a turnê do Cólera e aí a gente levou técnico [Alonso] e o JB Nikima. A idéia de levar o técnico e o Nikima é que essa turnê foi gravada para o DVD de 30 anos e, com isso, a gente também montou um “Cólera Project”. Quando o Pierre e o Val voltaram para o Brasil, porque tinham que ir trabalhar, a gente continuou tocando o Cólera com o técnico de som que é baterista e o JB no baixo, que já foi baixista do Cólera. E com essa formação a gente fez apresentação, na Alemanha, em Hamburgo também e tínhamos planos de tocar em Amsterdam, quando a gente chegou lá, ficamos sabendo que o Confronto tava tocando e a gente foi pra lá. Chegamos lá, era um bar muito louco, muito antigo o bar, com figuras de caras dos anos 60 que tocaram lá, mas era um domingo, não sei se não foi divulgado, mas tinha umas 30 pessoas. Aí tinha mais umas três bandas, era tudo na linha metal, crossover, aí a gente olhou e falou: “puta, velho, não foi divulgado”. Não tem quase ninguém e ia acabar 23h30, porque era matinê e tal, aí a gente achou melhor curtir o show dos caras do que inventar de tocar com o “Cólera Project” na balada. Aí ficamos conversando, foi bem legal o reencontro, deixamos lá uma caixa de vinil do Cólera, pois já tinha acabado a nossa turnês e falamos: “olha, fica aí com vocês, lá no Brasil vocês me pagam”. Tem essa coisa de você poder confiar, deixa uma caixa com o cara, dizendo: “taí, 200 dólares!”, confiando. Assim é legal, é assim que se faz a família do punk, do faça você mesmo, funcionar. Porque funciona, porque existe a confiabilidade, existe o crédito.
Quem comentou desse encontro foram os dois Felipes do Confronto (Chehuan e Ribeiro), assim que voltaram dessa tour, eles contando felizes de terem encontrados você lá…
É massa, velho. É um prazer você estar lá… Em Berlim tem brasileiro, na Finlândia tem brasileiro… Eu falava “meu, parece que estou no Brasil!” A gente tava tocando e tinha nego gritando lá “toca Rauuuulll!!”
De 92 a 97 vocês não lançaram discos. O que aconteceu nesse período?
Foi a transição do vinil pro CD, que dificultou para a Devil, na época não tinha condições. O Caos Mental era pra ser gravado em 94, não tinha todas as músicas que tem, mas nessa época tínhamos uma série de músicas que dava para fazer o disco. Acabou que algumas músicas foram refeitas e outras que a gente abandonou. Mas nesse período teve outra coisa que pegou, foi que a gente tocou muito fora de São Paulo, foi a época do boicote dos shows da cidade…
Eu ia perguntar sobre isso mais adiante, mas fale um pouco a respeito…
Como a gente sempre foi contra a violência, e mesmo indo pra Europa, eu tinha um programa na rádio 89FM [na época, conhecida como “A Rádio Rock”], durante um ano, que era o “Independência ou Morte” com o Tatola [vocalista do Não-Religião] e mesmo pregando a não-violência, todas essas coisas, o grau de brigas que tinha nos nossos shows a cada dia aumentava. Porque as bandas antigas de punk estavam tudo paradas e a gente continuava tocando, a gente não era banda da zona sul, da zona norte, mas os punks de treta e de gang só tinha os nossos shows para ir, para encontrar os seus rivais. Então todo show do Cólera em São Paulo, era palco de treta. E decidimos: não vamos mais tocar enquanto não parar a treta e fizemos um boicote à cena de SP e nesse período de 90 a 96, a gente não tocou em SP. Tocamos de volta em 96, no então reaberto Aeroanta [antiga casa de shows da zona oeste de SP], com Invasores de Cérebros e 365, se não me engano. E a partir daí, passamos a fazer outros shows na cidade, voltamos a acreditar na cena, porque não estava mais aquele ambiente violento. Entre 97 e 98 abriu o Hangar 110 e nós fomos uma das primeiras bandas a fazer shows grandes lá, com o Ação Direta e daí não parou mais. Então desse período até 96 a gente ficou longe de todas atividades relacionadas à cena de SP para não se envolver com rolo de violência, com palco de violência. E com isso a gente ganhou muito, pois presenciamos todo o cenário que estava surgindo pelo país e também incentivamos esse cenário e para que essas bandas acontecessem, quando rodamos o país inteiro.
Como está a produção do disco novo? Quando sai? Qual o nome?
O disco vai se chamar Acorde, Acorde, Acorde, depois de tanto Acorde para Acordar que a gente cogitou, depois ficando prontas as letras e as músicas a gente começa a perceber… Todos os discos do Cólera são temáticos e o verbo “acordar” é o tema do disco. Aí a gente percebeu a necessidade de ser mais direto com as massas, e não só com a linguagem e nossa história direta com o punk era melhor. O Acorde para Acordar remete à música “Sarjeta” [do disco Tente Mudar o Amanhã] e também tem duplo sentido, o acorde sonoro para acordar as pessoas e o acorde outra vez para acordar novamente. Já o Acorde, Acorde, Acorde, dá o duplo sentido e mais uma opção. O duplo sentido são três vezes solicitando o acorde e porque são três acordes, e uma outra coisa é que ele nos remete à música “Marcha Soldado”. Então a gente achou que pela dimensão que o álbum vai ter, tem muito mais a ver o Acorde, Acorde, Acorde.
Então para esse álbum, a fôrma está sendo untada e a gente já está virando massa para entrar no forno em junho. Eu sou o produtor, o que estou fazendo com o Cólera a mesma coisa que fizemos com o Deixe a Terra em Paz, ensaiando intensamente. Todo o processo de composição das músicas é feito em ensaio, não é esse esquema de entrar no estúdio e ficar mexendo na música, fazendo arranjo, não em isso. Se chegarmos no estúdio e tem uma idéia, podemos usar. A busca é que saia o material por inteiro, aquela massa sonora eu você escuta em músicas como “Medo”, “Adolescente” terá no álbum que também vai trabalhar com essas linguagens, senão fica uma coisa cheia de firulas. A gente está dois anos e meio ensaiando intensamente. E no período de novembro pra cá está uma média de dois a três ensaios por semana, de três a cinco horas por dia. E a banda está vivendo assim. Tanto que o bom resultado do show de sábado é a grande vivência sonora que a gente vem tendo nos últimos tempos. E isso ajudou a gente ficar bem musicalmente no palco.
Como será essa ópera?
A ópera é o seguinte: eu sempre busquei algo que não fosse só o feijão com arroz, o que todo mundo já fez e o que é óbvio de se fazer numa situação dessa. Acho legal sempre assim: se você vai subir num palco, tem um CD para mostrar, tente pelo menos convencer e, se possível, surpreender. É o que falam quando fazemos show: “esperava que fosse bom e foi melhor ainda”. Essa é a proposta da gente. É sempre estar muito satisfeito, sempre ter aquilo como algo que é bem legal, porque era o que a gente queria das bandas quando a gente era moleque. A gente sabe que expectativa é essa. A gente sabe que fazer o primeiro álbum é sempre uma putaria generalizada. Porque você quer fazer tudo, é piração, o segundo já é mais difícil, o terceiro… Agora, o 11° álbum, depois de dez álbuns que deram certo, é muito mais difícil.
E tem a expectativa do público também…
E a nossa! Você escuta e tá ruim, você tem 280 arranjos e só salvou dois. O resto você rasgou e jogou no lixo. Essa postura a gente não tem de jogar fora, de escrever e não aceitar, a gente fica reciclando, faz laboratório, a gente ensaia em casa, pega o violão, compõe uma música, escuta, para, analisa, ganha com a espontaneidade da música sincera do jeito que sai, e a lapidação não exagerada, para ficar mais simples e dentro da idéia possível.
A ópera é atualmente o ápice dessa busca que eu sempre tive, da diversividade. No Deixe a Terra em Paz tem sanfona, charango, naipe de metais com bombardino, vara e tudo mais. Nesse álbum vai ter bem menos instrumentos incomuns e mais postura sonora incomum. Como voz lírica (pois sou professor de canto), vai ter uma série de jogos com a própria história da banda, enfim. É um álbum que a gente sabe que tem um momento assim de cântico, a gente vai deixar ele fluir por si mesmo. A ópera é uma ópera, mas uma ópera punk-rock. A ópera surgiu como a sonorização da dramaturgia, quando o foco era a interpretação. Nós vamos dar hoje como foco o tema, não é a música nem a dramaturgia, é o tema. E o tema da ópera é o caos. A ópera do caos. Como subtemas, você pode colocar todos os tipos de guerra. A guerra interior que você tem consigo, às vezes não consegue lidar e briga com você mesmo. E a guerra sem noção, com bomba de hidrogênio, com extermínio e com todo tipo de ação sem nexo que a gente está vendo aí no dia-a-dia.
Vocês sempre colocam esses elementos a mais no som de vocês. O que ainda falta colocar que ainda não foi possível?
Nesse disco, eu tenho a expectativa de colocar acordeom. Talvez tenha um acordeom, um violoncelo na ópera, não muita coisa. Talvez um piano Hammond para fazer um climinha, que não vai fazer diferença de estiver no show… Agora fora desse álbum, para um próximo, eu tenho a expectativa de fazer uma coisa mais parecida com o francês Patrick Bertrand, a música dele faz o ambiente da ironia. Se for um fundo sonoro de um filme, a imagem que reflete é a da ironia, de “estar tirando”. É o que o Pistols fez, berrando e aloprando e ele faz de uma forma engraçada. O Cólera faria de uma forma mais, digamos… Cólera! E para isso, você precisa de uns instrumentos bizarros, desde campainha… Nesse álbum, uma coisa que vai ter também, é o galo, feito pelo Pierre, com um pedacinho de viola caipira, de moda de viola e aí o galo canta para acordar, aí vem um “acordão” e aí já era! Essas são algumas coisas incomuns que vêm por aí! Mas o legal é que a gente não tem restrição nenhuma, se alguém chegar e falar: “por que não põem violino na música do Cólera?”, vamos botar violino e bola pra frente! Isso se for feito por uma banda conhecida e que muita banda a tem como referência, dá também essa liberdade de atuação para toda a cena. Se todas as bandas antigas estivessem fechadas para tocar com o tá-tum, tá-tum, umas bandas se sentiriam reprimidas para sair daquela linguagem de cobrança de som e tudo mais. Isso para mim não é punk, é falta de liberdade.
E o DVD de 30 anos? Já se falou que vai ser duplo, triplo…
E daqui a pouco vira uma enciclopédia de mídias! Pois é muito complicado, tem muita coisa, vou te mostrar aqui, não vai aparecer na gravação… Isso aqui são coisas que eu usava nos anos 80… Tudo que eu pude guardar do início da banda, está aqui. Eu sou o fundador do Museu Cólera!
[nesse momento Rédson abre umas gavetas com vários objetos históricos do Cólera: cartazes de shows, bottons, adesivos, ingressos de shows, matrizes originais de capas de discos como Cólera e Ratos de Porão Ao Vivo, Pela Paz em Todo o Mundo, Sub, entre outros, cadernos com letras das bandas que participaram do Sub – para que Rédson entendesse o que eles cantavam para ajudar na produção do disco, flyers de shows feitos em stencil, encarte da primeira demo do Cólera com o RDP]
Voltando ao DVD…
Isso aqui tudo estará no DVD, vai ter um link para imagens históricas, com fotos, cartazes, que é uma coisa muito ampla.
Vai ter participação de alguma banda?
Não tem espaço! É difícil o que não vai entrar, não o que você põe. Puxa, como eu vou fazer, não posso deixar de botar isso!
O que mais terá nesse DVD?
É um DVD muito amplo, porque ele tem um show integral, realizado no Hangar, de 25 anos da banda, com várias câmaras, gravado em 16 canais. Tem um link chamado “Shows Históricos”, que são gravações em VHS, de shows da Europa. E vai ter link também para making off, entrevistas com todo mundo que passou pela banda, com fãs, com outras pessoas também, Ariel, Clemente… O problema é isso: é muito material para condensar numa mídia só. Então a gente não está conseguindo fechar o DVD porque tem coisas que a gente sabe que não cabe.
Estou agora em parceria com um pessoal que a gente está cogitando fazer duplo mesmo. Vamos tentar pegar um patrocínio… O problema do DVD é que você paga 30 mil e vende a 35 [reais], para ficar abaixo da média. O DVD não saiu ainda porque não consegui produzir do jeito que é o projeto, numa média de 10, 15 reais o preço de venda. E um livrinho maior com um papel mais fino, de mercadinho, com umas 60 páginas, que cabe dentro do anexo, e aí também vem algumas imagens e outras coisas interessantes.
Tem idéia de quando vai sair?
Velho, tô trabalhando para que saia para o aniversário de 30 anos em outubro.
E vai ter alguma coisa especial para esse dia?
Eu montei com dois amigos há 4 anos um projeto Punk-rock Nacional para trazer uma banda conhecida de cada estado para tocar… Devotos, Replicantes, Confronto, Inocentes, Plebe Rude, enfim, a prefeitura na época era da Marta [Suplicy], conseguimos fechar com o Anhembi, aí a Marta perdeu [as eleições para José Serra] e miou o projeto. Então eu tenho a expectativa de realizar alguma coisa do gênero para os 30 anos. A idéia é fazer um evento de graça, com um quilo de alimento, de forma que isso se torne mais um registro: o registro do é possível. Essa turnê que começamos “30 Anos sem Parar”, e esse evento é para concluir com o jargão: “30 Anos sem Parar é Possível”.
E nesse meio-tempo vai ter um monte de atividades.
Você faz muita coisa ao mesmo tempo, como se organiza para isso?
Depois que aprendi a lidar um pouco mais comigo, eu aprendi a lidar com o espontâneo. De forma que você está aqui trabalhando, olhas as coisas e o que eu faço? Relaxa, que seu corpo vai falar. A sua essência te diz. Agora quero ler um livro, vou lá fora, leio o livro… Vou dar uma volta no Parque do Ibirapuera… Pego o violãozinho e vou lá pro quarto… Você vive de bem com a vida, porque você aceita que seu interior, a sua mente está pronta para aquilo, aí você dá conta de tudo. Mas se você fica: como vou fazer tudo isso? Você não faz nada, você fica preso na sua má administração do tempo, nas faz na sua natureza, não faz no seu natural, não faz o que quer e não faz nada. Você fica fechado com o show que não deu certo… A vida é assim, é tudo que você fizer. E isso eu aprendi quando eu tinha uma gráfica no Capão Redondo [periferia da zona sul de SP], a gente tinha qualidade total, treinamento de funcionários, pra sair de lá com emprego melhor. E essa convivência em grupo, com uma equipe, numa “gincana de trabalho” que a gente falava, todo mundo vem aqui para ganhar ponto, mas tudo gostoso e espontâneo, aí você aprende a não ser não superior, por mais que você seja o líder, você aprende a lidar com seu tempo e mais uma série de coisas.
Uma das bandeiras levantadas pelo Cólera é a da ecologia. Como vêm a questão do aquecimento global nos dias de hoje? Dá impressão de que não foram ouvidos?
É engraçado… Mas existe um comodismo, por mais que uma coisa esteja pegando fogo a 3 casas de casa, ninguém faz nada, pois “não está pegando fogo aqui”, então é um problema grave nacional que nós temos é que não temos autoestima, um povo que tem autoestima baixíssima. Durante muito tempo o Brasil cultuou os valores e comportamentos estrangeiros, mediante até mesmo de uma certa pressão ideológica de alguns países que fazem a cultura fluir, mas por outro lado também existe a necessidade de que as novas gerações que vêm vindo que estão buscando sedentamente coisas novas e originais daqui, se você sair por SP hoje, que é quarta-feira, você vai ver que tem uma infinidade de shows: as pessoas preferem ver a coisa ao vivo do que o som mecânico, ao contrário do que era no início do punk, as pessoas querem ver músicas próprias do que cover. E essa valorização da criatividade é uma das maiores gratificações que a gente vê hoje como resultado.
Já a ecologia que a gente começou a gritar em 89, teve a sua atenção de ativismo nos anos 90 até há algum tempo. Mas hoje essa coisa da globalização não permite que o assunto tenha o peso que tem. É um assunto de capa por poucos minutos. Você acha qualquer site que tenha notícias, como o Terra, aquela notícia vai perdurar pelo tempo que ela pesa e ibope e não por importância real que ela tem. Você vai olhar lá e a notícia não está mais. Enquanto que “a mulher que matou o filho que era viciado em crack” permanece por três dias no noticiário. Então, é vício de tragédia, vício de matéria ruim. A gente não tem esse valor que precisava ter, e é por isso que está desse jeito.
Observando a capa do Grito Suburbano, tem uma foto do Fabião com um X na mão. Nessa época já tinha straight edge?
Não, não tinha não. O Fabião fez esse X na mão porque ele viu lá de fora [do país], mas a gente nem sabia o que era esse conceito. Aqui era bizarro, algumas coisas a gente não sabia o que era e copiava assim mesmo! Algumas bandas eram o GBH brasileiro. E tinham alguns conceitos que a gente copiava, aí perguntei pro Fabião: “o que é isso?”, e ele “ah, nada, sujei com carvão…” Acho que até talvez ele soubesse, mas era uma coisa que se propagava. Depois que fui fazer rádio pela primeira vez, num programa chamado Subúrbio Geral na Rádio Excelsior, eu fui dar uma lida para entender mais, aí eu descobri que existia um movimento de não-alcoolismo, não-carne nos Estados Unidos, que estava começando, motivado por bandas como Black Flag, com a coisa do X na mão, por causa da molecada que não poderia beber era marcado com um X e tal. Eu achei a coisa muito interessante e comecei a divulgar. E de muita gente que é straight edge hoje, eu já ouvi isso muitas vezes: “você foi o primeiro straight edge brasileiro, você foi vegetariano e você traiu o movimento porque voltou a comer carne!” Cara, eu nunca fui straight edge! “Mas você foi o primeiro a falar de straight edge!” Não, eu fazia rádio, fanzine, um monte de coisas e divulguei uma idéia existente e acabei me passando por traidor. É bizarro!
Mas eu respeito. A gente já tocou na Verdurada [evento que acontece em SP, com bandas, materiais e comida vegan], convivo com todo mundo e tudo mais. O lance é não ter atrito, independente se o cara seja straight edge, anarcopunk ou o que for. Não pode ter atrito. A gente respeita porque a gente quer respeito. E quando você é mais velho e conhecido, o cara sempre quer dar um jeito de culpar, pois quando você acerta o “grandão” você se torna um grandão também. É o quem acusa, se inocenta. Então tem que sempre sair desse jogo.
O Clemente já falou que se o punk não surgisse nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, ele surgiria aqui…
Seguramente! Eu também falo isso às vezes. Eu costumo falar que nós temos a melhor cena de rock alternativo atualmente no mundo, já foi a Inglaterra, Alemanha, hoje é aqui. O índice de “faça você mesmo” já foi pro Guiness! E o que o Clemente fala é fato mesmo, se não tivesse surgido lá tinha surgido aqui.
Como avalia aquele menino de 11 anos em 1973 descobrindo o rock e hoje beirando ao meio século?
É louco! Acho que eu tive a sorte em me espelhar em pessoas que tinham já este estímulo de ir em frente sem ter medo do novo. E eu comecei cedo. A primeira banda que eu ouvi foi o Kiss, no Sábado Som, e antes do programa estrear, eu via a propaganda e pensava: “puxa, é isso que eu quero fazer”. E me propus a fazer, fiz a minha primeira guitarra de madeira, hand make, aos doze anos de idade e comecei a ter meus projetos de bandas. Eu já tinha a veia da vontade, só não sabia, pois não tinha know how nenhum, mas eu tinha a vontade. Isso me levou ao “faça você mesmo” sem saber dessa expressão, em 1973, 74.
Mas eu fiz uma guitarra de madeira com palito de dente de traste, a distorção era um pedaço de papelão, embaixo da corda de nylon, quando eu apertava a corda ela raspava no papelão, dava um ruído de distorção. Fiz uma bateria de caixa de papelão, uma série de coisa que fui fazendo em busca desse ponto que eu tinha, que era de querer fazer. Era um sonho, eu não tinha como comprar os instrumentos e resolvi fazer os instrumentos. E eu vi que funcionava. E com isso eu fui correndo atrás, montei um estúdio, simples, mas montei, que foi o Estúdios Vermelhos. Então vejo hoje que tem gente que fez quatro, cinco faculdades para ser engenheiro, bioquímico, mas é o que se impôs porque dava dinheiro no mercado, mas não está feliz com a vida, porque não fez o que realmente teve vontade.
Então eu vejo que aquele menino hoje é realizado, pois eu tive o que eu sonhei. Por isso acho que é muito intenso, há 30 anos sem parar, é possível. Porque o que eu sonhei o tempo todo, sempre se concretizou. Um dos casos mais marcantes é a turnê da Europa, quando o cara falou: “o que vocês acham de vir?” eu disse “vamos! Eu quero ir, eu acredito que é possível!”, levou 3 anos mas a gente foi! Nós fizemos! Se a gente não tivesse os 6 mil dólares nossos, a gente não ia chegar tão longe talvez. Não ia ser a mesma pegada, a gente ia fazer os 15 shows, pois não tinha nenhum na verdade, e fizemos 56, na veia e na vontade.
http://www.colera.org
http://www.myspace.com/coleraoficial